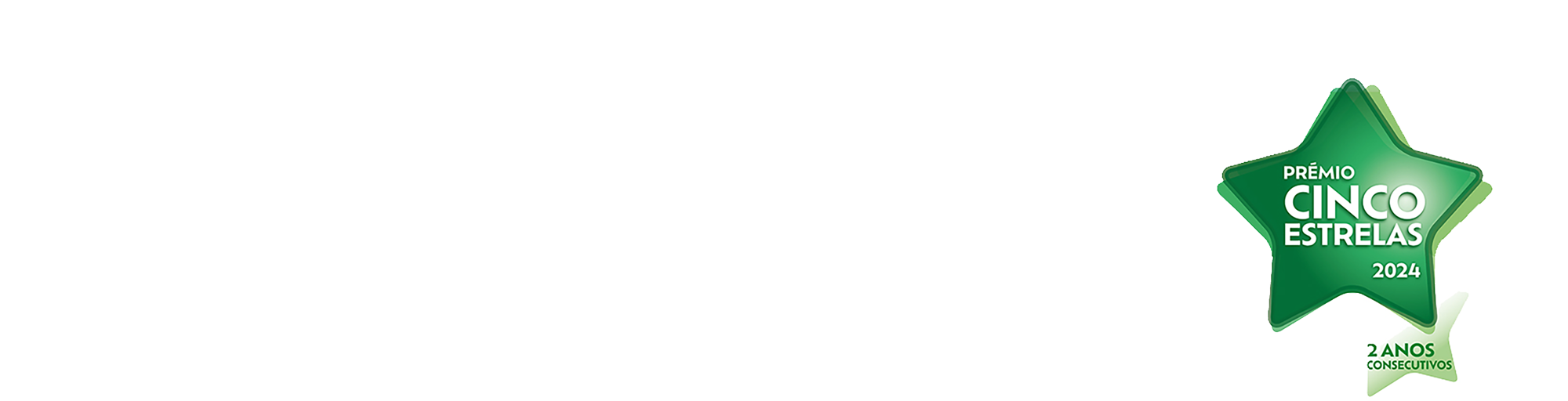“Indústria tem resistido”

Crítico em relação aos constrangimentos impostos à Indústria agro-alimentar, ao aumento do IVA e ao modelo de funcionamento da Agência para a Qualidade e Segurança Alimentar, Jorge Henriques, presidente da FIPA (Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares) defende a simplificação dos processos burocráticos de licenciamento industrial e apela a um maior envolvimento das autoridades oficiais na criação de uma marca Portugal. Na relação com a Distribuição, considera que o esforço de parceria poderá gerar vantagens competitivas tanto para fornecedores como para lojistas.
Hipersuper – Perante um cenário de dificuldades económicas e retracção de consumo, como analisa o actual momento da indústria agro-alimentar? Jorge Henriques – É óbvio que a Indústria se tem vindo a ressentir desta retracção do consumo e sobretudo de algum estagnamento da economia portuguesa, embora alguns sectores, nomeadamente os que estão voltados para a exportação, tenham visto algum crescimento nos dois últimos anos. Mas não são crescimentos suficientes para relançar a actividade económica agro-alimentar. De qualquer forma, na generalidade a indústria tem sabido resistir a esta depressão em que a economia está mergulhada. Há sectores que continuam a investir fortemente em inovação e na melhoria das condições técnico-industriais. Aliás, essa tem sido a tónica deste sector, concretamente na implementação das práticas europeias.
H – Esses são os factores que permitiram à indústria sustentar de alguma forma as dificuldades macroeconómicas? J.H. – Sem dúvida. Há alguns anos trocamos impressões sobre implementação de sistemas como o HACCP, que hoje é uma prática institucionalizada em todas as empresas, independentemente da sua dimensão e incluindo a restauração. Isto a par de outros sistemas de certificação e, desde o início do ano, através da obrigatoriedade da rastreabilidade. Passámos de uma fase inicial da segurança alimentar, há uma década atrás, para sistemas mais complexos hoje em dia.
Dimensão europeia?
H – Referiu as exportações. A nossa indústria está muito dependente deste factor, e nota-se uma recuperação nos últimos tempos. Mas é suficiente para relançar o sector do ponto de vista da competitividade europeia? J.H. – Os números são extremamente pequenos, mas são encorajadores, pois demonstram que temos produtos que podem competir no espaço europeu, onde há grandes oportunidades, como a presença de núcleos portugueses em alguns países. Mas é preciso fazer muito mais. Os aspectos da diplomacia económica, através dos apoios das embaixadas aos produtos nacionais, é fundamental. Como o é uma maior participação e interesse do ICEP na indústria agro-alimentar. Fomos sempre um parente pobre, mas é esta indústria que pode transportar a imagem de qualidade. É preciso saber aproveitar e capitalizar os grandes eventos que temos vindo a organizar para potenciar os produtos de grande consumo. Há produtos em que podíamos ser muito competitivos, como nas pescas, conservas ou azeite, por exemplo, mas fruto das negociações europeias não estão a ser devidamente apoiados.
H – Tirando algumas excepções, a ideia que temos é que as exportações agro-alimentares portuguesas são precisamente dirigidas para o “mercado da saudade”. Devíamos ultrapassar esta lógica e crescer noutro sentido? J.H. – Não é possível chamar exportação se estivermos a falar de nichos. O que dizemos é que esses núcleos podem ser uma porta de entrada, mas depois temos que ser mais ambiciosos. É preciso melhorar a comunicação do país e da marca portuguesa, que até hoje se tem perdido no tempo por não terem sido feitos os esforços suficientes. Portugal é um país demasiado pequeno, com estruturas demasiado limitadas, e portanto não se pode dar ao luxo de não ser dinâmico, activo e ambicioso.
H – Está também a dizer que tem que haver mais empenhamento político? J.H. – Óbvio que sim. Os elementos oficiais, como as embaixadas comerciais, podem e devem ter um papel actuante. Isto juntamente com o Icep e outros organismos. Será uma contribuição decisiva para a indústria agro-alimentar e para outras.
H – Mas existem condições efectivas para sermos competitivos a uma escala mais alargada, concretamente numa Europa a 25? J.H. – Portugal precisa da indústria agro-alimentar, contrariamente ao que está instalado na cabeça de muitas pessoas. Eu acredito sinceramente que podemos ser competitivos nalguns sectores, criando uma interligação com a produção. Temos é que abandonar a ideia de que não vale a pena porque já existe. Temos que atrair investimento, simplificando em vez de criar burocracias sucessivas e complexidade administrativa, por exemplo em termos de licenciamento, de localização das unidades industriais, etc. Há conflitos com uma série de situações, como os PDM’s locais, as redes Natura e outros. São estruturas respeitáveis e que devem existir, pois representam a qualidade de vida de um país, mas constituem, por razões mais burocráticas do que outra coisa, um obstáculo à construção de um projecto industrial. Em Espanha implementam-se em menos de um ano; por cá, falando de uma indústria não poluente e que não tenha qualquer conflito com as estruturas que referi, será no mínimo dois anos. Os sucessivos governos têm prometido aligeirar esta carga, mas o problema persiste.
H – Já fala disso há muito tempo… J.H. – É dramático estarmos há uma década a falar das mesmas coisas e a levantar os mesmos dossiers. Temos os mesmos vícios de há dez anos atrás. E isto desmotiva as novas gerações e também retrai o investimento externo. É regulamentação sobre regulamentação, entidade sobre entidade. Quem tem um espírito prático e quer avançar, obviamente desiste.
H – Falou de constrangimentos. Na sua opinião, o que deveria mudar precisamente tendo como pano de fundo o aumento da competitividade? J.H. – Acima de tudo, era importante não complicar. E não complicar deixando fazer. Considero que a simplificação do processo burocrático é fundamental. As dificuldades no licenciamento são um grande entrave ao desenvolvimento da Indústria. Há um ambiente desprotegido e um conjunto de situações, como os custos energéticos, de comunicações, das redes portuárias, entre tantas outras coisas, que impedem o desenvolvimento. E também a legislação laboral, concretamente a falta de flexibilidade, essencial para uma indústria sazonal como a nossa. Para além dos impostos, que também constituem um constrangimento para o desenvolvimento saudável da indústria. E criar sistemas para atrair investimento, como acontece em Espanha.
H – Em que medida é que a nova reforma da PAC afecta a indústria agro-alimentar, tendo em atenção que vem introduzir outra lógica nas ajudas, nomeadamente transferindo-as da esfera produtiva para a geográfica? Os subsídios deixam de ser atribuídos mediante a produtividade e passam a ser distribuídos de acordo com o território em si… J.H. – O ideal é a indústria poder abastecer-se no próprio território. A reforma da PAC, muito mais do que as quotas, trouxe uma desinformação a nível geral que levou ao abandono do que era rentável e que ainda produzíamos. Ora, isto afasta a indústria da proximidade das suas fontes de abastecimento, pois foi preciso procurá-las noutros locais. Por outro lado, em muitos casos também nos afastámos de uma qualidade que os produtos agrícolas e frutícolas nacionais tinham habituado o consumidor português. Ou seja, defendemos que Portugal deve incentivar a implantação de algumas culturas que podem ser competitivas e deve motivar as novas gerações a retornar aos campos.
Diferencial competitivo
H – Qual é a posição da FIPA em relação ao aumento do IVA e que consequências traz para a cadeia alimentar? J.H. – A nossa posição não é de hoje. É uma receita seguida por sucessivos governos, mas de cada vez que o IVA aumenta perdemos competitividade, nomeadamente ao nível ibérico. Hoje temos uma diferença que chega a 14 pontos nos produtos de inovação. E também noutros produtos há um diferencial enorme que cria grande constrangimento a nível económico. E a verdade é que o aumento do IVA não vem resolver nada, pois falamos de uma questão estrutural que se tenta resolver com medidas pontuais. É uma medida que vem agravar o problema e adiar sem horizonte a real solução do problema económico do país. Portugal tem outros défices, de competitividade, que são agravados. Pagamos energia 25% mais cara do que em Espanha, a maquinaria industrial e agrícola é mais cara, os combustíveis também, etc. E não podemos esquecer o problema do mercado paralelo, pois temos uma fronteira extremamente extensa com Espanha. A própria União Europeia não consegue controlar onde o IVA é perdido e onde há economia paralela, porque não é líquido que seja pago no destino. Nesta disparidade face a Espanha, a economia portuguesa está numa desvantagem enorme. É de facto espantoso como uma medida consegue gerar tantos anticorpos. Mas, ao mesmo tempo, é sempre a medida aplicada.
H – Concorda com os critérios de aplicação das diferentes taxas de IVA, consoante os produtos em causa? J.H. – Em primeiro lugar, defendemos que os mesmo produtos devem ser competitivos face a Espanha. Neste momento, não discutimos o porquê do IVA de determinado produto, pois não creio que seja o mais importante nesta fase. O que importa é garantir que os produtos sejam competitivos face a Espanha, pagando um IVA similar. O que em Espanha está à taxa reduzida também deve estar em Portugal. Ou seja, deve haver competitividade para a mesma gama de produtos.
Segurança alimentar
H – Já referiu a rastreabilidade, que passou a ser obrigatória há um ano. Mas se em determinados produtos a implementação é fácil e óbvia, até porque há experiências noutros países, noutros a situação é bem mais complexa. A rastreabilidade foi de facto implementada em termos gerais na indústria alimentar? J.H. – Quanto maior for a empresa, mais complexos serão os sistemas. Mas em empresas mais pequenas qualquer computador pode guardar todos os registos da origem dos produtos comprados, os produzidos e para onde os enviou. Portanto, eu diria que, desde a implementação do sistema, na generalidade as indústrias que representamos colocaram em funcionamento sistemas de rastreabilidade. Neste domínio, até avançámos mais do que alguns países comunitários. Foi um processo que foi assimilado como uma necessidade. Agora, é evidente que existem complexidades diferentes consoante os sectores e até os canais de comercialização. E nesta parte final, nomeadamente em relação a algum retalho tradicional e no canal Horeca, temos a rastreabilidade que é possível ter. Mas uma coisa é certa: na eventualidade da necessidade de recolha de um produto, é perfeitamente possível fazê-lo. Estou absolutamente tranquilo neste particular.
H – No que diz respeito à norma 22000, o que antevê em termos de implementação? J.H. – Estamos a trabalhar nessa norma ISO e a fazer a sua transposição para o sistema de gestão português. Não será por aí que Portugal vai ter algum problema.
H – Mas o que traz de diferente para a indústria? J.H. – Impõe regras que de alguma forma já estão implementadas noutras normas. É um conjunto um pouco mais alargado e que vem impor maior rigor na higiene e segurança dos produtos alimentares, encarando-a como norma transversal. É mais um desafio a que a indústria agro-alimentar já está habituada. Não é por falta de aplicação das normas que a indústria não tem sido produtiva, inovadora e não tem produzido produtos de qualidade e seguros. Creio que a ISO 22000 apenas vem reforçar a cadeia alimentar.
H – Por falar em segurança, teremos naturalmente que abordar a criação da Agência. É um processo que se arrastou anos a fio e quando finalmente foi criada, depois de sucessivas comissões instaladoras, ninguém parece concordar com o modelo definido… J.H. – A FIPA tem uma posição clara ao longo dos anos. O que dizemos é que a avaliação e comunicação do risco deveria ser separada da fiscalização, tendo capacidade de investigação autónoma. Somos a favor de uma agência, que por exemplo é um dos motores de desenvolvimento da indústria agro-alimentar em Espanha, da segurança alimentar e até da competitividade. É uma agência que se articula perfeitamente com a indústria, com os consumidores e com a saúde. Mas separando a fiscalização.
H – Mas o plano inicial era haver essa separação… J.H. – Passou por diversas fases e temos a informação de que, aparentemente, as competências vão estar na mesma estrutura, mas que existirá uma autonomia de cada uma das áreas. Tenho algumas dúvidas em relação ao funcionamento, em primeiro lugar porque a própria empresa de centralizar todas as actividades de fiscalização só num organismo é já uma tarefa de enorme dimensão e que vai exigir um grande esforço de aplicação. Colocar sob o mesmo chapéu também a APSA (Agência Portuguesa para a Segurança Alimentar) é outro desafio que só vendo para crer.
Parceria com Distribuição
H – Há crescente pressão por parte dos grupos de distribuição para a implementação da tecnologia RFID por parte dos seus fornecedores, apesar das etiquetas ainda estarem muito caras. Que implicações isto pode ter no sector tendo em atenção um universo empresarial muito baseado em PME’s? É viável? J.H. – Neste momento, apenas é adaptável a produtos de grande valor acrescentado, que a indústria agro-alimentar portuguesa não produz. Por agora, e mesmo no médio prazo, não creio que seja aplicável. Considero que o actual sistema é suficiente, pois permite perfeitamente à indústria articular-se com a Distribuição. Por outro lado, considero que tem de haver partilha de custos, pois não pode ser o consumidor a suportar nem a indústria, que tem sido o grande tampão à inflação nos últimos anos. Estamos nos limites dos limites. A indústria não suporta mais pressão sobre o preço.
H – Como é que analisa a relação de forças entre Indústria e Distribuição? Há equilíbrio? J.H. – A nosso ver as coisas têm que funcionar em parceria. Sem Indústria não há Distribuição e sem Distribuição não há Indústria. Ambas as partes têm que trabalhar em projectos conjuntos com vista à melhoria da eficiência operacional, quer de um lado quer do outro. E há muitos exemplos disso, incluindo entre a FIPA e a APED, num exemplo que deve ser extensível aos operaddores. Mas há situações que têm de melhorar. Os interlocutores de ambos os lados devem desenvolver-se ao nível da exigência do negócio.
H – E também ao nível da competência negocial… J.H. – Na competência negocial, na capacidade de inovação, tanto na produção como na venda, etc. São dois lados que têm que ser compatíveis. Não podemos ouvir falar que existe uma hegemonia de um lado ou do outro. Portugal fez em pouco tempo o que outros países fizeram em décadas. A Distribuição cresceu de forma brutal e muito rapidamente, enquanto a Indústria saía de um enorme constrangimento, sobretudo nos anos 80, e entrava num novo ciclo. E durante este período a Indústria também demonstrou uma enorme capacidade de resposta aos mais variados níveis. Há duas ou três décadas não havia praticamente camiões cobertos e hoje temos um parque de viaturas de nível europeu, por exemplo.
Opções estratégicas
H – Nesta fase, a marca própria é estratégica para as cadeias de distribuição, o que é assumido frontalmente. Muitas insígnias estão, por exemplo, a reduzir sortido e a substituir marcas de fabricante pelas suas. Como analisa este menor espaço para as marcas da indústria que representa? J.H. – Os tempos estão a evoluir e já assistimos a vários ciclos de evolução. As coisas não têm que ser incompatíveis, mas devem ser inseridas em contextos de transparência. Não temos nada contra as marcas brancas nem a favor. É uma opção dos industriais. Tudo deve ser observado num universo de competitividade e naquilo que é estratégico para as empresas.
H – Ou seja, uma visão pragmática. A realidade é esta e é assim que temos de trabalhar… J.H. – Uma realidade que tem que ser gerida em parceria entre fornecedores e Distribuição, acreditando que o negócio tem que ser bem gerido dos dois lados, tal como a negociação. Isso trará vantagens competitivas para ambos.