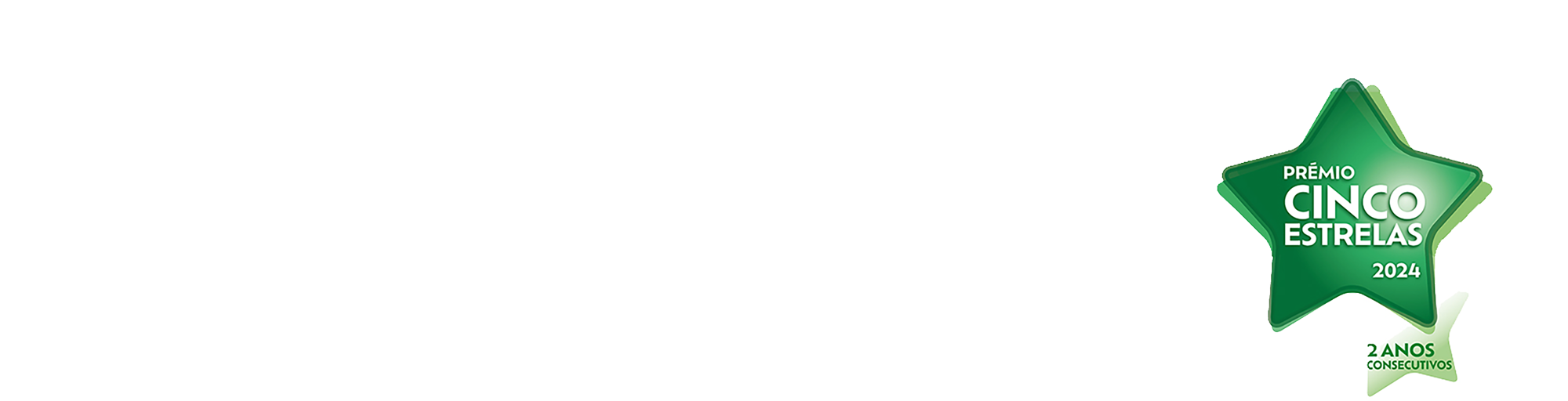«Deixem-nos trabalhar»

Luís Folque, novo presidente da Casa do Azeite, analisa o sector oleícola de forma pragmática e objectiva. Reconhece dificuldades estruturais e competitivas, mas mostra-se também optimista face à evolução desta cultura no contexto internacional, particularmente tendo em atenção o prestígio de que goza esta gordura alimentar. O futuro, diz, passa pela capacidade de diferenciação e posicionamento dos embaladores e das próprias cadeias de distribuição. Nesse sentido, o espaço para a criatividade das marcas deve ser defendido.
Hipersuper – Quais as linhas de orientação da nova presidência na Casa do Azeite?
Luís Folque – Existe um plano de continuidade. Nós representamos os embaladores de azeite, cooperativas e alguns produtores, desde que sejam também embaladores. Neste momento, o conjunto dos 75 associados da Casa do Azeite representa cerca de 95% do volume de azeite embalado em Portugal. Nesse sentido, a nossa principal missão é defender a imagem do azeite de marca, devidamente embalado e rotulado de acordo com a legislação em vigor, para que os consumidores saibam exactamente o que estão a comprar. Pretendemos evitar o consumo de azeite a granel, sem qualquer identificação, sem um responsável legal pela sua colocação no mercado, e que é, de resto, proibido por lei.
H – Que ainda representa uma boa parte do consumo em Portugal…
L.F. – Sim, mas como se trata de um circuito “não formal”, não se consegue medir com exactidão, não existem dados fiáveis. Calculamos que poderá representar entre 15 a 20 por cento do consumo. Tem havido uma evolução francamente positiva a este nível. Nos últimos anos, muitas cooperativas e lagares começaram a embalar o seu azeite, e temos notado que muitos desses operadores se têm associado à Casa do Azeite, na qualidade de embaladores, o que é muito positivo.
H – Mas o cenário, mesmo com a evolução, está longe do ideal…
L.F. – Na mente de alguns consumidores ainda perdura, infelizmente, a ideia de que os produtos vendidos sem qualquer identificação vêm directamente da terra, são mais “genuínos”… De facto, este tem sido desde há muito o canal ideal para todos os que queriam vender “gato por lebre”. É verdade que ainda hoje se encontra uma grande percentagem de produtos vendidos assim, como se viessem directamente do produtor, principalmente em feiras, beiras de estrada e mesmo nalguns lagares, com fraudes gravíssimas quanto à sua genuinidade e falta de qualidade, e são essas situações que temos vindo a tentar combater, junto com as autoridades nacionais. Mas a esmagadora maioria dos produtores hoje já vende os seus produtos devidamente embalados, identificados e até certificados.
Categorias e categorias
H – Do ponto de vista do consumo, há claramente uma evolução no sentido de este ser de melhor qualidade. Havia uma distinção feita com base no grau que foi alterada pela União Europeia e que levou as marcas a criarem uma série de outras designações, como podemos actualmente verificar nos lineares. Mas estas categorias, que são algo subjectivas, não estão a sobrepor-se à distinção de qualidade pretendida, nomeadamente azeite, azeite virgem e azeite virgem extra?
L.F. – Bom, categorias de azeite, há as três que referiu. O azeite virgem loteado com azeite refinado (o que hoje tem que vir expresso no rótulo), que será o produto mais banal; o azeite virgem, que é obtido exclusivamente com base em processos mecânicos, e que pode ir até dois por cento de acidez e apresentar ligeiros defeitos de cheiro e sabor e o azeite virgem extra, que é exactamente a mesma coisa, mas ganha a designação extra porque a acidez máxima é 0,8% e tem que ser irrepreensível do ponto de vista organoléptico, ou seja, não pode apresentar nenhum defeito de cheiro ou sabor. Estas são as categorias legais que podem ser vendidas ao consumidor final, que existem há muitos anos, e que obrigatoriamente estão no rótulo. Comercialmente, o azeite era dividido pelas marcas, todas em uníssono, pela percentagem de acidez, o que é um critério muito redutor. Repare que um azeite (azeite refinado com azeite virgem) pode ter uma acidez baixíssima, uma vez que o azeite refinado tem acidez próximo de zero… mas essa baixa acidez é obtida pela refinação química. Do nosso ponto de vista, o que deve ser reforçado, e está a ser pelas marcas, é a categoria comercial, é o facto de ser virgem extra, virgem ou só azeite. Depois, tem que se fazer uma distinção dentro das categorias, ou seja, dentro dos virgens extra existem diferenças notórias de cheiro e sabor, uns são mais picantes, outros mais frutados, etc. Hoje em dia, cada marca escolheu a sua divisão, ou o seu subtítulo, se quiser, para informar o consumidor, de uma forma muito mais correcta quais os diversos padrões de azeite que dispõe.
H – Mas o objectivo da Comissão, ao criar as três categorias, era precisamente facilitar essa identificação. E com toda a panóplia de designações que actualmente existem, como para cozinhar, para temperar, selecção, etc, não será que estamos a confundi-lo ainda mais, escondendo a definição de qualidade por detrás do marketing? Ou seja, as categorias não deveriam estar mais visíveis nos rótulos?
L.F. – Como disse há pouco, existem grandes diferenças entre os azeites da mesma categoria, e portanto o consumidor deve ser orientado na sua escolha, para fazer uma compra mais de acordo com o seu gosto. Há azeites virgem extra bem mais frutados que outros, por exemplo. E reparemos uma coisa: estamos a falar de azeite, que é um produto natural e cujas características são reconhecidas. A verdade é que hoje em dia, com todas as exigências ao nível legislativo, há muito pouca margem de manobra, pouca liberdade para comunicar. E fazer marketing, na minha opinião, é salutar. O azeite é uma gordura com características especiais pois tem naturalmente uma grande variedade de perfis organolépticos. E portanto pode perfeitamente ter outros elementos associados, como o prazer e a promoção de estilos de vida saudáveis, com associação à dieta mediterrânica, por exemplo. E é aqui que se pode criar conceitos à volta do produto. As marcas estão a desafiar o consumidor, a tentar promover o consumo. E depois o consumidor irá fazer as suas comparações, criar padrões de consumo e escolher as marcas que mais lhe agradam.
H – Mas não existindo qualquer parametrização das designações utilizadas pelas marcas, corremos o risco de termos um azeite denominado selecção, o que à partida indicaria uma qualidade superior, e na realidade este não o ser minimamente…
L.F. – Não vejo nisso um risco. Há marcas que quando chegam à designação “superior” o azeite ainda não é de qualidade. A noção de “superior” não é uma imposição legal. Isto acontece noutros produtos onde o topo de uma marca pode ser de qualidade inferior a um “básico” de outra marca.
H – Precisamente…
L.F. – Bom, mas temos que deixar a criatividade das marcas funcionar. E o consumidor é que terá que fazer as suas escolhas, e se não estiver satisfeito não voltará a comprar aquela marca. Na verdade, a legislação sobre rotulagem de azeite até é demasiado restritiva, deixa muito pouco espaço para a criatividade. Deixem-nos trabalhar e criar valor neste mercado. É importante que a legislação defenda a saúde pública e a fraude, quanto ao resto deixem ser o consumidor a avaliar.
Lógica de longo prazo
H – Temos estado a falar essencialmente de comercialização. No que diz respeito à produção, Portugal já foi auto-suficiente e agora tem que recorrer à compra no exterior. Por outro lado, dispúnhamos de um regime de excepção para plantio de 30 mil hectares de olival subvencionado. Como está essa situação? Uma boa parte dessa área foi aproveitada por espanhóis…
L.F. – Tanto quanto sei, os 30.000 hectares foram adjudicados na totalidade, embora uma parte ainda esteja por plantar. Mas, para mim, as questões produtivas resumem-se a três ou quatro questões centrais. Nós vimos de uma agricultura, no antigo regime, que não favorecia particularmente o azeite. Depois da Revolução de Abril, veio a reforma agrária, a qual parou a capacidade de investimento e, consequentemente, a modernização do sector. De seguida, entramos na Política Agrícola Comum (PAC). Na minha opinião, foram 30 anos contra o olival. Os primeiros por não ter havido reconversão; depois, já no âmbito da PAC, Portugal foi mais favorecido nas culturas cerealíferas e no gado, o que permitia retornos ao investimento muito mais rápidos, numa época em que a taxa de juro era tão elevada, sendo este factor muito importante. É verdade que, nessa altura, o olival tinha o esquema de subsídio mais completo. Havia subsídios para o arranque, para plantio, para perda de rendimento, para ajuda ao consumo e para comercialização. Só que, mesmo com tudo isto, não era suficientemente atractivo quando comparado com a rapidez das receitas geradas por culturas anuais. O olival é um investimento a longo prazo. Durante muitos anos, investiu-se em cereais, o que permitiu a recapitalização da agricultura mas não a reconverteu para actividades mais adequadas às nossas condições edafo-climáticas. Só com as recentes alterações e num contexto de juros mais favoráveis é que o olival voltou a ser alternativa credível.
H – Contrariamente a Espanha…
L.F. – O nosso olival precisava também de muito mais acompanhamento científico, melhoramento de variedades, etc. E aqui ao lado a Espanha, numa conjuntura diferente, concretamente por ter ficado com menores subsídios nas culturas anuais, juros muito menores, por não ter tido uma reforma agrária e eventualmente por ter mais vocação, registou uma evolução brutal em toda a fileira oleícola. A Espanha, nestes últimos 30 anos, triplicou a sua produção e passa a ser o maior produtor mundial, sendo que por vezes produz mais de 50% do azeite mundial.
H – E qual é o cenário neste momento?
L.F. – Existe uma nova reforma na PAC, e as ajudas passam a ser desligadas das produções, portanto, procuram-se alternativas orientadas para o mercado, nomeadamente o olival. E o que se passou foi que houve agricultores portugueses que foram aqui ao lado ver como se faz e alguns espanhóis que compraram terrenos em Portugal. Neste momento, os 30 mil hectares estão distribuídos e estamos a aguardar os resultados que seguramente irão surgir.
H – O desligamento das ajudas da lógica produtiva para a geográfica, recebendo-se em função do terreno e não do produzido, poderá originar a quebra de produção?
L.F. – É possível que parte dos olivais antigos sejam abandonados. Os produtores menos competitivos, sem dúvida, irão abandonar. Mas este será um processo que irá decorrer durante dois ou três anos. Entretanto, o preço de mercado do azeite vai reposicionar-se, porque menos oferta implica subida de preço e os novos olivais entrarão em produção. É uma questão de tempo.
H – Inversamente, o surgimento de novos produtores, como a Austrália, poderá funcionar em sentido contrário…
L.F. – Há sem dúvida grandes desafios no sector. O que posso dizer é que, neste momento, o maior novo produtor que pode haver ainda é… Espanha. Os Estados Unidos, Austrália, Argentina e até a China estão de facto a iniciar-se neste sector e a produzir qualquer coisa. Mas os grandes crescimentos no curto/médio prazo vão ocorrer em Espanha, pois os agricultores espanhóis continuaram a plantar olival na área antes destinada aos cereais.
H – Numa altura em que os benefícios da gordura são amplamente reconhecidos e novos mercados consumidores estão a emergir, essa parece ser uma opção estratégica extremamente válida. Portugal não deveria apostar nesta cultura tendo em atenção este cenário? E há condições para tal, por exemplo procurando recuperar os níveis produtivos que já tivemos?
L.F. – Vivemos numa democracia e numa economia livre, com tendências de globalização. As condições para o crescimento do sector do azeite passam também por não haver condições melhores noutras coisas. Se houver três alternativas, os investidores escolhem o melhor. O que me parece é que o olival começa a ser, em alguns casos a melhor, ou uma das melhores opções em termos agrícolas. Acredito que, mesmo com os subsídios desligados da produção, o olival tem hipóteses, quando comparado com outras opções produtivas. Quanto à saúde, aconselho algum cuidado a quem comercializa. Há mais de dez anos que a imprensa escreve insistentemente sobre esses benefícios e, portanto, hoje já não é uma novidade pelo que não é de esperar um aumento tão acentuado no consumo. E mais: outras gorduras também estão a desenvolver trabalho nesse sentido, procedendo a alterações na composição dos seus produtos. Há países que o estão a fazer em larga escala. E não esqueçamos que, enquanto o azeite é uma cultura predominante nos países do Sul da Europa, mais pobres, as outras culturas vêm de países ricos, como a Alemanha, Canadá, EUA, etc. Certamente que essas economias vão dificultar a vida ao azeite e dificilmente vão deixar os produtores de azeite tomarem conta do mercado das gorduras alimentares.
Trabalho conjunto
H – Falando agora de distribuição. Qual a sua opinião sobre a relação entre as empresas e a Distribuição, tendo em atenção, por exemplo, todo o trabalho de linear que está a ser desenvolvido?
L.F. – Tem havido uma evolução que tem levado a alguma concentração. O universo da distribuição é hoje, e cada vez mais, constituído por grandes grupos e grandes cadeias que ultrapassam a abrangência nacional e até continental. A globalização é uma realidade no sector da Distribuição. E, como consequência, há produtos que estão em todo o lado. Na minha opinião, isto levará também, do lado da produção e embalamento, a uma tendência crescente para a existência de empresas grandes que estão em parceria com esta Distribuição, reforçando os critérios de eficiência na cadeia de valor. Por outro lado, haverá também uma procura acrescida pelo nicho, pelo que é novidade, como aliás é característico do Homem. Isto para dizer que, honestamente, haverá alguma dificuldade na empresa média. Cada vez mais, as empresas têm que ter competências fortes e uma razão diferenciada de existir. E ser igual aos outros não é uma delas.
H – E nós temos empresas para operarem a uma escala mais global, como parece inevitável?
L.F. – Acho que sim. Dos três líderes do azeite a nível mundial, dois estão em Portugal e, por outro lado, várias empresas de nicho estão presentes em diversos países do mundo. O importante é as empresas conseguirem afirmar-se pela sua especialidade.
H – A nível nacional, a Distribuição está a reagir num sentido positivo e de parceria a todas estas alterações que foram introduzidas no mercado?
L.F. – A Distribuição, tal como as empresas, tem que procurar cativar o consumidor e encontrar mecanismos de diferenciação face à concorrência. Evidentemente, o azeite, dentro dos produtos alimentares, está no topo dos produtos apelativos e de prestígio, o que permite trabalhar. É claro que por vezes há situações complexas. O preço é muito importante para a Distribuição, e isso pode não ser positivo para as empresas. Mas é um desafio que Empresas e Distribuição têm que enfrentar para crescer e desenvolver o negócio.
H – Mas este era um linear caracterizado por uma mancha verde homogénea e sem diferenciação, o que está claramente a mudar, até em virtude das imposições legais de que falámos acima?
L.F. – Penso que isso não se deve a imposições legais mas, sim, a um trabalho de parceria. Por um lado, na produção primária, o azeite deixou de ser mais um produto agrícola. Produz-se com algum carinho e mais qualidade. Por outro lado, quem o comercializa tenta igualmente gerar valor na cadeia. E na venda também se tenta puxar pelo azeite como produto de marca, tendo um linear apelativo desafiando o consumidor para as mais diversas potencialidades ligadas ao produto. Há um interesse comum em toda a cadeia.
H – Para finalizar, podemos abordar o canal Horeca, onde a proibição dos galheteiros começa no início de 2006. Como vê esta medida?
L.F. – É uma medida de largo consenso em toda a fileira, incluindo na Restauração. Embora sendo uma minoria, existiam restaurantes que utilizavam de uma forma sistemática o galheteiro para defraudar o consumidor, o que era difícil de controlar porque o produto podia ser qualquer coisa, não tinha qualquer indicação, prazo de validade, empresa responsável, nada. E essa minoria acabava por colocar em causa a imagem do produto. Ou seja, estamos certamente a falar de uma percentagem mínima, mas que podia trazer consequências gravosas, pois o galheteiro é um elemento anónimo. Por outro lado, as pessoas começam a padronizar os seus gostos no azeite, o que num invólucro descaracterizado é difícil. Se houver um rótulo, o consumidor começa a criar a sua cultura de consumo. Na minha opinião, e para além de ser muito melhor do ponto de vista higiénico e da Saúde Pública, esta medida será favorável ao sector da restauração, pois ajuda a prestar um melhor serviço ao consumidor final.